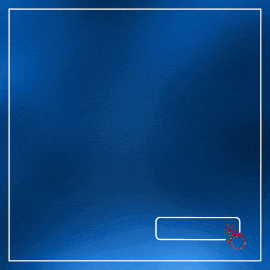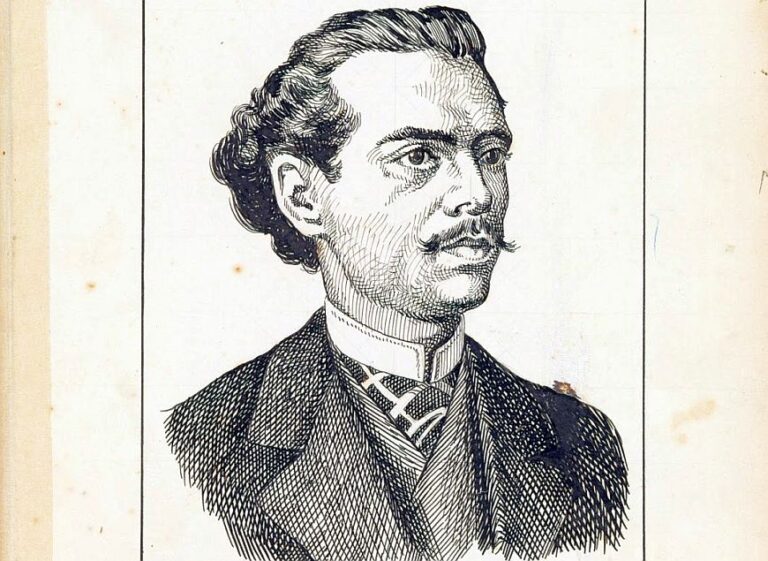CARLOS LOPES
(03-04-2013)
Nos dias de hoje, Joaquim Cardozo é mais lembrado pelos engenheiros e arquitetos (trabalhou com Oscar Niemeyer desde 1941 até o fim de sua vida, em 1978) do que pelos literatos – talvez em sua terra, Pernambuco, ou no Nordeste, seja diferente. Mas assim é no Sudeste e Sul do país – e quase certamente nas outras regiões.
No entanto, Carlos Drummond de Andrade considerou este grande engenheiro e matemático, um dos grandes poetas brasileiros. Disse Drummond, que prefaciou a obra de Cardozo:
“Se me perguntassem: o que distingue o grande poeta? Eu responderia: Ser capaz de fazer um poema inesquecível. O poema que adere à nossa vida de sentimento e de reflexão, tornando-se coisa nossa pelo uso. Para mim, Joaquim Cardozo, entre os muitos títulos de criador, se destaca por haver escrito o longo e sustentado poema A Nuvem Carolina que é uma das minhas companheiras silenciosas da vida.”
Realmente, A Nuvem Carolina bem merece o elogio de Drummond:
“No alpendre da casa de um antigo sítio/ Onde morei por longo tempo – longos trabalhos –/ Todas as manhãs eu vinha ver o dia/ Que sobre as cajazeiras, longe, amanhecia./ Ao lado, ao alto permaneciam… entre-havia/ Dois morros de matas virgens coroados./ Na abertura desses montes, sempre aparecia,/ Na mesma posição, na mesma hora matutina,/ Uma nuvem cor-de-cinza e leve bruma,/ Com fímbrias e vestígios cor-de-ouro;/ – Uma nuvem ficava entre os dois capões do mato/ Por alguns quantos de tempos,/ Por alguns modos de sombras temporais.“
Jornais não são o melhor veículo para reproduzir poemas, por isso, ficamos por aqui, no início do poema que Drummond tanto gostava.
Talvez seja mais fácil, para exemplificar a grandeza do poeta, reproduzir outra de suas obras, a “Canção Elegíaca“:
“Quando os teus olhos fecharem
Para o esplendor deste mundo,
Num chão de cinza e fadigas
Hei de ficar de joelhos;
Quando os teus olhos fecharem
Hão de murchar as espigas,
Hão de cegar os espelhos.
“Quando os teus olhos fecharem
E as tuas mãos repousarem
No peito frio e deserto,
Hão de morrer as cantigas;
Irá ficar desde e sempre
Entre ilusões inimigas,
Meu coração descoberto.
“Ondas do mar – traiçoeiras –
A mim virão, de tão mansas,
Lamber os dedos da mão;
Serenas e comovidas
As águas regressarão
Ao seio das cordilheiras;
Quando os teus olhos fecharem
Hão de sofrer ternamente
Todas as coisas vencidas,
Profundas e prisioneiras;
Hão de cansar as distâncias,
Hão de fugir as bandeiras.
“Sopro da vida sem margens,
Fase de impulsos extremos,
O teu hálito irá indo,
Longe e além reproduzindo
Como um vento que passasse
Em paisagens que não vemos;
Nas paisagens dos pintores
Comovendo os girassóis
Perturbando os crisântemos.
“O teu ventre será terra
Erma, dormente e tranquila
De savana e de paul;
Tua nudez será fonte,
Cingida de aurora verde,
A cantar saudade pura
De abril, de sonho, de azul,
Fechados no anoitecer.”
O poeta, que morreu aos 81 anos, jamais casou, apesar da poesia amorosa e mesmo erótica que criou – ou, talvez, até por causa. Por exemplo, em “Poema do amor sem exagero“: “Eu não te quero aqui por muitos anos/ Nem por muitos meses ou semanas,/ Nem mesmo desejo que passes no meu leito/ As horas extensas de uma noite./ Para que tanto Corpo!/ Mas ficaria contente se me desses/ Por instantes apenas e bastantes/ A nudez longínqua e de pérola/ Do teu corpo de nuvem.”
Completamente diferente, e, no entanto, tão parecido (!?), é o belo “Poema dedicado a Maria Luíza“: “Eu te quero a ti e somente,/ Eu que compreendia a beleza das prostitutas e dos portos,/ Que sofri a violência da solidão no meio das multidões das grandes ruas,/ Que vi paisagens do céu erguidas sobre a noite do mais alto e puro mar,/ Que errei por muito tempo nos jardins deliciosos dos amores incertos e obscuros.// Eu te quero a ti sempre e somente./ Eu te quero a ti pura e tranqüila/ Preciosa entre todas as mulheres/ Que como rosas, como lírios, sobre mim se debruçaram,/ Entre aquelas que de mim se aperceberam/ Ao doce esmaecer das tardes luminosas./ Eu te quero a ti pura e tranqüila./ Nos espelhos da memória refletida/ Pelas horas do meu tempo transpareces/ E o Sol do meu deserto te ilumina/ E a noite do meu sono te adormece./ Eu te pressinto no silêncio das verdades que ignoro,/ No silêncio e no delírio dos desejos impossíveis:/ através de um céu sem nuvens, do céu que é um prisma azul/ Eu te revelarei a cor da tempestade/ E a refração serena do meu mais íntimo segredo…// Em horizontes de ouro e de basalto/ Indicarei o teu caminho/ Entre flores de luar…/ Farei uma lenda sobre teus cabelos…”.
TEATRO
Em 1963, Joaquim Cardozo publicou “O Coronel de Macambira: bumba-meu-boi em dois quadros“. Não foi sua única peça teatral. Cardozo também escreveu “O capataz de Salema“, “Marechal boi de carro“, e, naturalmente, “Antônio Conselheiro” (“Canudos terminou – Todos os seus defensores/ Morreram; resta apenas no campo de batalha/ Um braço erguido, com a sua mão aberta:/ O braço erguido de uma criança;/ Um braço erguido como uma bandeira/ De uma infância, de uma dor, de uma pátria“).
Porém, “O Coronel de Macambira” é, sem dúvida, sua melhor peça. Não é um auto, como “Morte e Vida Severina”, de outro grande poeta pernambucano, João Cabral de Melo Neto, mas um “bumba”, posteriormente musicado por Sérgio Ricardo. Nesta peça, além da tragédia dos retirantes e do coronelismo, há uma mescla de humor, em nossa opinião, um aspecto ainda pouco estudado na obra de Joaquim Cardozo. Por exemplo:
“Vem na frente o produtor
Logo após o economista
Mais atrás com seu tambor
O sagaz propagandista
“Dizem que são justiceiros
Produtores de abundância
Na verdade são coveiros
No cemitério da infância
“De tamanhos produtores
Bem se conhece o produto
Terras secas, gado morto
Gente faminta, de luto.”
Sujeito imparcial, Joaquim Cardozo, um dos grandes nomes da engenharia nacional, assim se refere a alguns colegas de pouco tino social:
“Cuidado com o engenheiro
Que vem as terras medir
Ele é mais que feiticeiro
Para encantar e iludir
“Seu instrumento: uma aranha
Tecendo vai os seus fios
E sempre alguém se emaranha
Nos seus desenhos vazios
“Seu instrumento é roleta
De muitos mede a má sorte
Com traços de linhas retas
Separa a vida da morte “
Esse humor, outra vez, aparece no canto do jagunço e sua ambivalência em relação ao Estado natal, revolucionado, na época, pelo primeiro governo Arraes, depois interrompido, após o golpe de Estado de 1964:
“Sou filho de Pernambuco
Lá das bandas de Carpina
Da cana gosto do suco
Que tem nome Monjopira
Eduquei-me no trabuco
Matar gente é minha sina
“Nasci também nesta terra
Que o sol castiga e descora
– terra de Joaquim Nabuco –
Homem de bem, homem certo
Que era muito diferente
Desses “nabucos” de agora
“Há muito que por aqui
Um sanguesinho não há
Mas pelo jeito parece
Que as coisas vão melhorar
Pois seu coronel Nonô
Acaba de me chamar
“Há de ser briga valente
Com muito sangue de gente
Vai correr sangue de boi
E ninguém há de sobrar
Pra contar como é que foi.”
Mas, é na figura do retirante que a peça se realiza – e, aí, o humor cede à tragédia. Diz o retirante, em um dos momentos mais altos da poesia brasileira:
“Sou uma sombra sem corpo,
Sou um rosto sem pessoa,
Um vento sem ar soprando,
Sem som, um canto, uma loa.
“Nem as palavras definem
O meu tão grande vazio,
Todo o gesto que me exprime
Todo o meu gesto é baldio.
“Todo o ardor que em mim renasce
Se extingue com um assovio…
Em mim não há claridades
Sou, apagado, um pavio.
O tecido que me veste
Não tem trama, nem cadeia.
Meus passos são muito leves
Não deixam marca na areia.
Meu andar é curto e breve
Mas contém a vastidão
Como é leve o que me pesa
Meu ausente matolão.
“Perto vou, mas vou por longe
Vou junto, mas vou sozinho
Em sombra: burel de monge
Caminho meu descaminho.”
OLÍMPICO
Joaquim Cardozo era um homem sensível ao seu povo – ele próprio nasceu bastante pobre. Essa identificação, como vimos, transparece um sua poesia. Mas não apenas nos momentos de opressão; também nas vitórias.
Seu poema em homenagem a Ademar Ferreira da Silva, o campeão olímpico do salto triplo, é daqueles em que sua condição de matemático mais transparece através da poesia: “Havia um arco projetado no solo/ Para ser recomposto em três curvas aéreas,/ Havia um voo abandonado no chão/ À espera das asas de um pássaro;// Havia três pontos incertos na pista/ Que seriam contatos de pés instantâneos./ Três jatos de fonte, contudo, ainda secos,/ Três impulsos plantados querendo nascer.// Era tudo assim expectativo e plano/ Tudo além somente perspectivo e inerte;/ Quando Ademar Ferreira, com perfeição olímpica,/ Executou, em relevo, o mais alto,/ – Em notas de arpejo/ – Em ritmo iâmbico/ O tripartido salto”.
Mas, o outro lado de nascer em país ainda não liberto para o desenvolvimento, aparece, às vezes, diretamente: “Sou um homem marcado…/ Em país ocupado/ Pelo estrangeiro./(…)/ Em outros tempos e antigos/ Plantei alfaces, vendi craveiros,/ Fui hortelão, fui jardineiro;/ E a escura terra…/ Terra/ Dos meus canteiros,/ Sempre arqueava o dorso/ Ao gesto amigo/ De minha mão.// Hoje provo, na boca, um desgosto,/ Hoje tenho, no sangue, um sinal/ Que não foi e não é das algemas/ Da prisão da Vida,/ Nem do jugo da Terra,/ Nem do pecado original./ Muito bem sei, senhores,/ Que sou um sonho cravado na morte,/ Que sou um homem ferido no olhar…/ E que trago, bem viva, entre as nódoas do mundo,/ A mancha do meu país natal.// Sou um homem manchado de sombra/ No sonho, no sangue, no olhar,/ Sou um homem marcado…/ Em país ocupado/ Pelo estrangeiro.// Mas esta marca temerária/ Entre a cinza das estrelas/ Há de um dia se apagar!“.
Nesta página, pretendemos apenas lembrar um grande poeta – por isso, quase não falamos no que todo mundo sabe: por exemplo, que ele foi o calculista de Brasília, que sem ele as colunas do Alvorada não existiriam, segundo testemunho de Oscar Niemeyer.
Entretanto, existe algo correlato na poesia de Joaquim Cardozo: a contradição entre o velho e o novo é um tema que permeia a sua literatura. Por exemplo: “Há muitos anos que os caminhos se arrastavam/ Subindo para as montanhas./ Percorriam as florestas perseguindo a distância,/ Lentos e longos deslizavam nas planícies.// Passaram chuvas, passaram ventos,/ Passaram sombras aladas…// Um dia os aviões surgiram e libertaram a distância,/ Os aviões desceram e levaram os caminhos.“.
Ou, em certas formas de expressão: “Velhas ruas!/ Cúmplices da treva e dos ladrões“. Trata-se de um tema diretamente relacionado a dois outros: a contradição entre claridade/escuridão e vida/morte. Mas aqui, talvez, o melhor é transcrever um trecho não de poema, mas do pequeno ensaio que Joaquim Cardozo dedicou a Rembrandt – mais exatamente, ao realismo na pintura do mestre holandês – em que revela muito de si mesmo:
“A pintura de Rembrandt é o drama puro e simples do nascimento e da morte. Dos espaços de sombra dos seus quadros surgem as figuras – incertas e imprecisas -, caminham para uma região iluminada, aos poucos se organizam em formas seguras e exatas, para logo se dissolverem, destruídas de novo pelo impacto violento da luz, como os seres vivos que assomam da escuridão do desconhecido, se expandem por certo tempo em pleno fulgor da existência, e depois desaparecem, queimados pela luz da consciência, desfeitos pelo ardor da própria vida. Há gravuras de Rembrandt em que esse ciclo é exatamente representado como o traço de uma linha que atinge, em sentidos opostos, dois infinitos que se confundem, em que a luz é revelada numa graduação crescente e alcança a mais intensa vibração, como se resultasse de uma queda vertiginosa de altos níveis de energia; essa luz que ora desce dos céus como um raio, ora penetra por uma janela como um jorro, uma chuva de partículas fulgurantes, ora explode no centro da tela como a desintegração instantânea de substâncias nucleares, luz para onde avançam, atraídos e dominados, todos os seres que aspiram a viver e, dentro da qual, são abrasados e consumidos.
“A pintura de Rembrandt é o drama da própria consciência do pintor que, para maior clareza, na série de pinturas em que retrata a si mesmo e a Titus e a Saskia e a Hendrijke, reproduz o mistério do nascimento e da morte em termos de luz e sombra. Basta olhar-se o seu último autorretrato, de 1668, já próximo de sua morte, que sucedeu um ano depois, para se ver um rosto não mais surgindo, mas se desfazendo na sombra, corroído pela luz“.